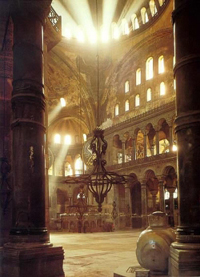Sábado, Janeiro 17
As origens do verde-rubro
A história de um símbolo abre-se sempre sobre um mesmo enigma - o mistério das suas origens.
O simbolismo político não foge a esta constante do simbolismo em geral e a história da bandeira nacional não deixa de o confirmar.
A bandeira portuguesa foi durante a monarquia constitucional a bandeira azul-branca bipartida e encimada pelas armas reais, assentes metade sobre cada uma das cores.
Azul e branco haviam já sido decretadas "cores nacionais" após a revolução liberal de 1820, por decreto das Cortes Gerais da Nação em 22 de Agosto de 1821.
Entre o vintismo e a contra-revolução, o simbolismo acompanha as vicissitudes que a conjuntura política vai ditando e o registo simbólico das cores vai-se progressivamente inscrevendo em cada um dos campos em conflito - o branco no absolutismo e o azul-branco no constitucionalismo.
Dentro deste contexto, a regência de D. Pedro IV, por decreto de 18 de Outubro de 1830 da Junta Governativa da ilha Terceira, substitui a bandeira, até então integralmente branca, pela bandeira azul-branca. Triunfante em 1834, o liberalismo faz dela a bandeira nacional, que se manterá sem alteração durante todo o constitucionalismo monárquico até ao 5 de Outubro de 1910.
Como se chega então à bandeira verde-rubra da República, que ainda hoje é a nossa? Qual a sua origem? Qual o seu significado?
Uma genealogia do cromatismo verde-rubro na história das bandeiras portuguesas revela-nos um fenómeno tanto mais surpreendente quanto pouco conhecido, ou, pelo menos, pouco citado.
O verde e encarnado, embora nunca tenham constituído as bandeiras nacionais até à bandeira republicana, têm figurado em insígnias várias ligadas a alguns momentos altos da história portuguesa, de que se tornaram símbolo - a Guerra da Independência, os Descobrimentos Marítimos, a Guerra da Restauração.
Verde e vermelha (com a imagem de Nossa Senhora da Conceição ao centro) foi a bandeira da Ala dos Namorados na batalha de Aljubarrota; verde e vermelha (fundo verde sobre o qual assentava a cruz de Cristo vermelha) foi a bandeira dos Descobrimentos sob o reinado de D. Manuel I ; e igualmente verde e vermelha (idêntica a esta última) foi a bandeira empunhada em várias revoltas contra o domínio filipino, que seria, ela mesma, a bandeira da Revolução do 1° de Dezembro 1640.
Assim, e sem que nunca tenha constituído a bandeira nacional, o cromatismo verde-rubro não deixa de estar indissociavelmente ligado a alguns momentos significativos da história portuguesa, em particular à defesa da independência nacional.
Todavia, não pode confirmar-se que o verde e encarnado da bandeira republicana provenha destes antecedentes. O mais directo, se o quisermos, teremos de procurá-lo bem mais tarde, já no final do século XIX, e é, sem dúvida, a bandeira da revolta republicana do Porto de 31 de Janeiro de 1891.
A bandeira içada na Câmara Municipal do Porto na manhã de 31 de Janeiro de 1891, símbolo da revolta republicana, era de facto verde e vermelha. Totalmente vermelha com um círculo verde ao centro, a que se juntavam as legendas referentes ao centro republicano a que pertencia ¾ Centro Democrático Federal 15 de Novembro.
Esta bandeira, conhecida e designada pelos revoltosos como "a bandeira vermelha" - "Veja, está içada uma bandeira vermelha na Câmara", dizia J. Chagas - é, na sua essência simbólica, a bandeira da tradição revolucionária e popular. Primeiramente, símbolo do cartismo em Inglaterra, seria depois hasteada em Paris, nas jornadas revolucionárias de 1848 e durante a Comuna de 1870.
Ao fundo vermelho da tradição democrática e sindical vêm juntar-se insígnias e legendas várias, características dos clubes políticos a que pertenciam. Assim nasceram a grande maioria das bandeiras dos centros republicanos, tal como a do Centro Democrático Federal 15 de Novembro.
O certo, porém, é que a primeira bandeira da República desfraldada em Portugal foi "verde e encarnada". Malograda a revolução, a bandeira "verde-rubra" torna-se para os republicanos a marca fundamental, o símbolo da República, por ora vencida, mas nunca assumida como tal e que em vinte anos de luta havia de vencer, numa sequência de acções que o próprio Partido Republicano planeou.
De facto, ao longo desse período que decorre entre 1891 e 1910, conhecido na história do republicanismo português como o "Período da Propaganda", o Partido Republicano desenvolve uma luta acesa de propaganda política segundo duas estratégias. Por um lado, uma luta antimonárquica afirmando os grandes slogans ideológicos e políticos do ideal republicano: a "Decadência" a que a Monarquia de Bragança conduzira o País; contrapunham-lhe um nacionalismo patriótico e a restauração das glórias do Império; a coligação do Trono e do Altar, em substituição da qual propunham uma separação da Igreja e do Estado, ao que acrescentavam um pendor laico anticlerical; a "Corrupção" generalizada que grassava pelo País, contra a qual opunham a exigência de "probidade" política; e finalmente, o carácter tirânico do regime monárquico, de que a ditadura de João Franco era a simples concretização; contra a tirania opunham, obviamente, a Democracia. Por outro lado, em simultâneo, obedecendo a uma outra lógica e segundo uma outra estratégia, começa a desenvolver-se outra forma de propaganda - a construção da imagética e da simbólica republicanas.
Ao longo destes vinte anos, a simbólica verde-rubra da bandeira do 31 de Janeiro inscreve-se definitivamente no ideal republicano. Desde as artes mais nobres aos mais simples objectos de uso quotidiano, em toda a iconografia, que simboliza a República, é o verde e vermelho que a representa. De tal forma, que desde o virar do século a própria imagem da "República-Mulher", passa a trajar de verde-rubro.
E quando chega a jornada revolucionária de 3 a 5 de Outubro de 1910 que havia de implantar a República, a bandeira levantada pelos regimentos e navios revoltados era verde-rubra (bipartida, vermelha junto à tralha e a parte maior verde; esfera armilar de ouro assente em fundo azul; estrela de prata com resplendor em ouro. Foi esta a bandeira de Machado Santos na Rotunda e que, vitoriosa a revolução na manhã de 5 de Outubro, foi hasteada em todos os quartéis e finalmente substituiu a bandeira azul-branca no alto do Castelo de São Jorge.

Do azul-branco ao verde-rubro
Passados os primeiros dias de euforia revolucionária, o Governo Provisório, conhecendo a importância da simbólica política e sobretudo o seu impacte sobre a opinião pública, apressa-se a constituí-la para o novo regime, isto é, a determinar os símbolos em torno dos quais se pudesse formular a nova unidade nacional. Assim, e a par das grandes questões de ordem política que se impunham, a questão dos símbolos nacionais foi uma das prioridades do Governo.
Corria na opinião pública que o Conselho de Ministros se inclinava para a bandeira azul-branca. A Carbonária, porém, usando o peso da sua influência, granjeada na revolução, ter-se-ia oposto veementemente. Perante o impasse, decide o Governo formar uma comissão especialmente destinada ao estudo da bandeira e do hino nacionais.
Por decreto de 15 de Outubro de 1910 fica a comissão constituída por cinco elementos, todos eles figuras de relevo da vida nacional - o célebre pintor Columbano Bordalo Pinheiro, o romancista Abel Botelho, o jornalista e conhecido republicano João Chagas e ainda dois destacados combatentes da revolução de 5 de Outubro, o primeiro-tenente Ladislau Pereira e o capitão Afonso Palla.'
Não foi necessário esperar muito para que a comissão apresentasse ao Governo o resultado dos seus trabalhos. De facto, logo a 29 do mesmo mês apresenta um primeiro projecto, idêntico à bandeira da revolução de 5 de Outubro, com uma diferença -- a proporcionalidade e a localização das cores verde e vermelho inverte-se em relação à tralha.
Apreciado em Conselho de Ministros do dia 30 de Outubro, são levantados vários reparos e sugeridas algumas modificações. É apresentado segundo projecto, este já sem estrela e com ligeiras modificações na esfera armilar e enviado para apreciação do Conselho de Ministros a 6 de Novembro. Após longa e disputada polémica, e para gáudio dos defensores do verde-rubro e indignação dos partidários do azul-branco, a 29 de Novembro o Governo aprova o projecto da comissão, ao que se soube pela maioria de um voto.
Estava determinada a nova bandeira portuguesa. De imediato, e antes mesmo que pudesse ser aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, o Governo Provisório estabelece por decreto o dia 1 de Dezembro como sendo o da Festa da Bandeira.
Na manhã de 1 de Dezembro, frente à Câmara Municipal de Lisboa, lugar onde fora proclamada a República em 5 de Outubro, Escola Naval e Escola do Exército, em parada militar, e ao som de "A Portuguesa", prestam homenagem à bandeira "verde-rubra", agora feita bandeira nacional. O desfile das tropas, engrossado por uma multidão de populares em clima patriótico, sobe as ruas da Baixa lisboeta até aos Restauradores, cujo monumento saúda, e segue Avenida da Liberdade acima, até à Rotunda. À tarde seguiu-se um espectáculo no Teatro Nacional.
A Festa da Bandeira foi assim a primeira grande festa cívica, a primeira liturgia de consagração da República.
Porém, a escolha da bandeira verde-rubra e a sua consagração imediata, quando a decisão não era de forma alguma pacífica e, sobretudo, antes de ter sido sancionada pela Assembleia Nacional Constituinte, levanta uma violenta polémica que moveu algumas das figuras mais gradas da vida pública portuguesa e apaixonou a opinião pública nacional.
Em Lisboa, Porto e por todas as cidades de província multiplicam-se os projectos para a nova bandeira. Na imprensa periódica, em croquis afixados em clubes políticos, livrarias, tabacarias e outros estabelecimentos comerciais, em conferências e sessões públicas, desde as salas de teatro à Sociedade de Geografia, os diferentes autores divulgam e fazem a defesa empenhada dos seus projectos. Acreditava-se ainda que a Assembleia Constituinte podia votar um parecer contrário e os partidários do "azul-branco" reclamavam com insistência um plebiscito.
A polémica polariza-se em torno de duas grandes questões: uma, de primeira ordem, a das "cores" azul-branco/verde-rubro; outra, menos acesa, a das "armas" - em torno da esfera armilar.
Em defesa do verde e encarnado vêm a terreiro, para além da comissão, figuras tão prestigiosas como Afonso Costa, António José de Almeida e o próprio Presidente do Governo Provisório, Teófilo Braga. A defesa do "azul-branco" é encabeçada pela não menos prestigiosa figura do poeta Guerra Junqueiro, entre outras, como A. Braancamp Freire, António Arroio, Lopes de Mendonça, Sampaio Bruno.
Analisemos a polémica, procurando as narrativas de legitimação de cada uma das simbólicas em confronto.
Da totalidade dos projectos já identificados poderemos encontrar, a partir de um critério cromático, três tipologias distintas - uma, verde-rubra; outra, azul-branca; e uma terceira, de conciliação.
Metodologicamente, procuraremos expor a legitimidade invocada em cada uma das tipologias e exemplificaremos com alguns projectos de entre cada uma delas.

O verde-rubro
Não há discordância quando se trata de reconhecer a natureza e a função da Bandeira Nacional. Ela deverá ser a síntese "do significado social do povo que representa" e conter "a sua alma, o seu ideal, o seu carácter, a sua tradição e a sua história". Numa palavra, deverá ser o espírito nacional, objectivado pela linha e pela cor. E justamente a discordância começa na linha e na cor.
Para a comissão, a cor é o elemento primacial que mais cuidadosamente se alonga a justificar. Quanto ao branco, concorda com Guerra Junqueiro, simboliza a "inocência, a candura unânime, a pureza virgem" que é no fundo a alma portuguesa. Mas, para além desta sintonia com a alma nacional, há uma outra razão de carácter histórico - o branco foi a base de todas as bandeiras portuguesas desde a fundação da nacionalidade até ao constitucionalismo. "Da bandeira da República não pode pois desaparecer o Branco" - conclui o relatório. E contudo desapareceria.
Pelo contrário, o azul, para além da analogia visual com o céu e o mar (dois elementos da nossa "preferência ancestral e da nossa... Fatalidade histórica), nada tem "de notável, de basilar, de característico ou necessário" em relação à "nossa tradição e à nossa história".
O azul associado ao branco aparece apenas após 1830 e, pior do que isso, não procura significar a soberania nacional, antes chama à bandeira o culto católico de Nossa Senhora da Conceição, "preito à padroeira oficial do Reino" Além disso, o azul-branco estava inegavelmente ligado às "corruptas brandícias e suaves torpezas" da dinastia de Bragança. "Portanto", conclui a comissão, "para nós, histórica e moralmente o azul é uma cor condenada".
Com o vermelho tudo é diferente. Tal como o branco, não só invoca a alma nacional como tem longa tradição na história das bandeiras portuguesas. "O vermelho é a cor combativa, quente, viril, por excelência [...] a cor da conquista e do risco" tão intimamente ligada às "manifestações da lusa nacionalidade". Por outro lado, figura na bandeira desde D. João II e essa presença é agora reavivada com o verde a que se associa na bandeira da jornada gloriosa do 5 de Outubro.
O verde, sim, não teria ainda raízes na consciência nacional. Porém, "foi uma das cores que preparou e consagrou a revolução".
"Portanto", conclui o relatório, "as duas grandes cores fundamentais da Bandeira da nova República devem ser, bipartindo-a no sentido vertical, o vermelho-escarlate e o verde-mar."
Quanto às armas, propõe a comissão, a "esfera armilar", "padrão eterno do nosso génio aventureiro" e o escudo branco com quinas azuis "da fundação da nacionalidade".
Também Teófilo Braga, em polémico artigo de jornal, defende as suas cores - verde e encarnado.
Partindo da evolução histórica da bandeira nacional anatematiza o azul e branco e procura legitimar, com razões não ligadas ao republicanismo, as cores republicanas.
O azul-branco, além de recente, tem sobretudo uma tradição pouco brilhante na história heráldica portuguesa. Adoptado pelos revolucionários de 1820, é recuperado por D. Pedro IV após a Carta Constitucional de 1826 e depois da implantação do liberalismo. Ligada ao princípio da "outorga", "a bandeira azul-branca acompanha esta transição sofismando sempre o reconhecimento da soberania nacional".
Pelo contrário, o branco invoca D. Afonso Henriques e a fundação da nacionalidade, o vermelho, D. Afonso III e a conquista do Algarve, e o verde, a Ala dos Namorados em Aljubarrota. E assim dizia Teófilo: "Para justificar as cores republicanas, temos a cor vermelha da conquista do Algarve, em que se integrou o território português, e a cor verde do pendão vencedor em Aljubarrota, que reivindicou a autonomia de Portugal [...]".
No que respeita às armas, Teófilo propunha que se juntasse uma legenda camoniana à faixa zodiacal da esfera armilar: "Se mais mundos houvera [...]", ou, no caso de figurar o laço azul-branco dos revolucionários de 1820 na parte inferior da esfera, que se inscrevesse a divisa de D. João II - "A Lei, pela Grei".
A tese de Teófilo Braga foi largamente contestada, tanto no que respeita aos seus argumentos históricos como heráldicos. Porém, mais do que isso, importa o seu significado político.

O azul-branco
Guerra Junqueiro foi sem dúvida o grande tribuno da bandeira azul e branca, diligenciando junto da comissão e do próprio Governo Provisório, polemizando na imprensa e apresentando o seu projecto ao povo de Lisboa na Sociedade de Geografia.
Em artigo publicado na imprensa lisboeta desenvolve um longo estudo onde justifica as suas razões e expõe os seus pontos de vista.
Também para o poeta a bandeira deve traduzir a alma da nação e também para ele as cores são o problema fundamental.
Numa longa prosa poética explica o significado das cores e a sua relação com o génio português.
O branco "é candura, pureza perfeita, virtude sem mancha". O vermelho é "um excitante da vida, dá-lhe ardor, impele a acção, provoca a luta". O azul é "serenidade, bondade, graça ingénua, alegria cândida". O ouro "é glória, vitória, triunfo, êxtase e apoteose". São estas as cores da alma nacional. E assim como as cores devem traduzir o génio do povo, diz o poeta, também as armas e as "insignia" devem traduzir num "resumo instantâneo a história pátria".
Depois disso lança-se Junqueiro na análise da evolução histórica da bandeira nacional, da fundação à República, e conclui perguntando: "Expulsa a realeza caiu da bandeira inerte o diadema real. Só o diadema? E as cores? O azul e branco não se evolaram também?... O Pendão da Rotunda era verde e vermelho... O Pendão do 31 de Janeiro iluminou-se como o da Rotunda de vermelho e verde. O ódio à Monarquia, à farsa sinistra do Constitucionalismo depôs o azul e branco inteiramente? Não. Ao proclamar-se a República das varandas da Casa do Município ladeavam o estandarte vermelho e verde duas bandeiras azuis e brancas."
E assim, avança o modelo para a sua bandeira no tom poético que o caracteriza:
O Campo azul e branco permanece indelével. É o firmamento o mar o luar, o sonho dos nossos olhos o êxtase eterno das nossas almas.
Os castelos continuam em pé inabaláveis, de ouro de glória, num fundo de sangue ardente e generoso ...
A cruz do calvário, as das cinco chagas essa não morre, é o abraço divino, o abraço imortal...
A coroa do Rei, coroa de vergonhas, já o não envilece, o não vislumbra. No brasão dos sete castelos e das quinas erga-se de novo a esfera armilar da nossa glória...
E ao símbolo augusto do nosso génio ardente e aventuroso, coroemo-lo enfim de cinco estrelas em diadema dos cinco astros de luz vermelha e verde [ ...] dessa manhã heróica da rotunda.
Sampaio Bruno foi outro dos defensores acérrimos do azul-branco.
Para Bruno as cores da bandeira devem continuar a ser o azul e o branco. Mais, a bandeira "deve ser a mesma, somente tirando-se-lhe a coroa", coroa essa substituída no seu projecto "por uma estrela de ouro".
As razões invocadas são sumárias e bem menos poéticas que as de Junqueiro. "É que a bandeira azul e branca", diz, "com o seu escudo e a sua disposição, é a única que o preto de África conhece como representativa da soberania de Portugal."
O debate verde-rubro/azul-branco teve repercussão tal que chegou a ter tradução poética, numa polémica literária, com réplicas e tréplicas, na imprensa, entre duas figuras, hoje esquecidas na literatura portuguesa mas ao tempo muito em voga - a poetiza Luthegarda de Caires, defensora do azul-branco, e o poeta Humberto Beça, defensor do verde-rubro.

Os projectos de conciliação
Múltiplos e os mais diversos foram os projectos de conciliação com diferentes nuances de pendor mais azul-branco ou mais vermelho-verde.
A tese do major Santos Ferreira, autoridade reconhecida na matéria, defendida na imprensa e posteriormente em público na Sociedade de Geografia, parece conferir legitimidade aos projectos de conciliação.
Segundo Santos Ferreira, o azul-branco não são cores monárquicas. São, sim, as cores da fundação da nacionalidade e simultaneamente da reivindicação democrática das Cortes Constituintes de 1821.
Azul e branco não são, pois, as cores da Monarquia, mas antes as cores da Nacionalidade e da Liberdade.
Por outro lado, o vermelho e verde, "as cores das jornadas gloriosas de 4 e 5 de Outubro", não podem deixar de ser consideradas. Porém, diz Santos Ferreira: "[...] Sobrepor ao trabalho patriótico de três gerações de batalhadores infatigáveis a glória do episódio que aqueles prepararam durante quase um século afigura-se-me injusto [...]", e conclui: "Conservemos [...] a antiga bandeira azul e branca, não só porque representa para nós a ideia da independência afirmada há oito séculos pelos soldados de Afonso Henriques [...] mas ainda e principalmente porque ela representa o heróico esforço de três gerações de escravos para a conquista da liberdade agora finalmente atingida.
E às cores verde e vermelha? símbolos do epílogo desta gloriosa e longa jornada iniciada em 1820, demos um lugar honroso nessa mesma bandeira [ ...] ."
Estava legitimada a conciliação das duas simbólicas. E os projectos de conciliação multiplicaram-se e foram tantos ou tão poucos que mereceram mesmo a "paródia" de um projecto síntese, "projecto racional" de conciliação para todos os paladares.
De entre os vários projectos conciliatórios merece um destaque especial, tanto pela coerência da sua justificação teórica como pelo seu equilíbrio e harmonia estética, o projecto do poeta Delfim Guimarães, cuja execução gráfica pertenceu ao pintor Roque Gameiro.
Partindo da impossibilidade do restabelecimento da bandeira azul e branca e das críticas violentas feitas ao projecto da comissão (já que as cores revolucionárias escolhidas - verde-vermelho - "são cores complementares e absolutamente antagónicas"), procuram uma outra bandeira de conciliação, mas totalmente diversa das anteriores. E o resultado é tanto mais surpreendente quanto, sendo esteticamente mais correcto, dizia-se, era mais coerente com o relatório da comissão do que o seu próprio projecto.
À cor branca, cor nacional por excelência - que o relatório da comissão afirma não poder desaparecer da bandeira da República e acaba por banir -, juntam Roque Gameiro e Delfim Guimarães as cores revolucionárias verde e vermelho, dispostas em três barras horizontais: uma vermelha, em cima, uma branca, ao centro, de maior dimensão, e uma verde, em baixo.
O branco, além de atenuar "a crueza das cores verde e vermelha", admite que nele assente com maior harmonia plástica a esfera armilar e o escudo das quinas, que, para evitar outras "insignia", sem quebrar o equilíbrio, terminava em bico.
Assim, "com esta disposição mantêm-se na bandeira portuguesa as duas cores simbólicas da bandeira republicana, aliadas à antiga cor do pavilhão nacional".
A conciliação das cores teve também consagração poética, pela pena do poeta Alexandre Fontes, ele próprio autor de dois projectos para a bandeira nacional.
Esta longa e acesa polémica não teve, contudo, resultado político. O Governo Provisório, por princípio ou receio, nunca aceitou o plebiscito, e a Assembleia Nacional Constituinte, na sua sessão de abertura, ao mesmo tempo que decreta a abolição da Monarquia sanciona o projecto aprovado pelo Governo para a bandeira e para o hino nacionais.
Por decreto de 19 de Julho de 1911, a Bandeira Nacional passa a ser em definitivo "bipartida verticalmente em duas cores fundamentais, verde escuro e escarlate, ficando o verde escuro do lado da tralha. Ao centro e sobreposto à união das duas cores terá o escudo das armas nacionais orlado de branco e assente sobre a Esfera Armilar em amarelo avivada a negro".
Dias depois era publicado o parecer técnico sobre as medidas e proporções da bandeira nacional, como das bandeiras regimentais e do Jack para os navios.
Estava definitivamente consagrada a nova bandeira da República Portuguesa.
A vitória da bandeira verde-rubra é, pode dizer-se, a vitória da ala jacobina do republicanismo e consagra simbolicamente os princípios ideológicos e políticos da propaganda republicana.
De facto, se procurarmos sob o discurso de legitimidade nacional invocado para justificar o cromatismo "verde-rubro" - da simbólica das cores a que corresponderia o génio português aos episódios histórico-militares da memória heróica a que estariam associadas -, encontramos um discurso outro, cujo registo de legitimidade se encontra, não no plano das razões nacionais, mas sim no da tradição republicana.
Na simbólica da bandeira poder-se-á dizer que as cores são o elemento de ruptura, enquanto as armas são o elemento de continuidade histórica, mas ambos conformes aos princípios republicanos.
Ao banir o azul-branco, a bandeira da República bania de um só golpe a marca simbólica da "Monarquia corrupta de Bragança" e a alusão ao culto católico da padroeira, no respeito da mais estrita tradição antimonárquica, laica e anticlerical do republicanismo.
O vermelho, herdado da bandeira do 31 de Janeiro, é a cor dos movimentos revolucionários e populares, marca indelével da matriz política democrática da tradição republicana.
O verde, herdado das bandeiras do 31 de Janeiro e do 5 de Outubro, é também a cor destinada por A. Comte aos pavilhões das nações positivas do futuro, como o relatório da própria comissão deixa transparecer. O verde marca assim a matriz ideológica positivista do republicanismo.
O escudo dos quinas e a esfera armilar evocam os dois momentos mais altos da história portuguesa que o imaginário político republicano opunha à decadência do constitucionalismo - a fundação da nacionalidade e a epopeia marítima. Marcam, pois, a matriz nacionalista e colonial do republicanismo histórico.
A bandeira verde-rubra, antes de ser Bandeira Nacional, é essencialmente a bandeira da República.

O verde-rubro - Da legitimidade republicana à legitimidade nacional.
Durante os regimes monárquicos, a bandeira dos estados era o estandarte da Casa Real. A bandeira era o símbolo da terra e do povo na medida em que o era do seu soberano. A bandeira nacional era a bandeira da dinastia reinante.
Só depois das revoluções liberais e dos nacionalismos do século XIX se começa a associar a bandeira aos conceitos de soberania e nacionalidade. A partir daqui começa a dissociar-se o Estandarte Real, indicativo do Chefe do Estado, da bandeira, símbolo nacional. A legitimidade da bandeira era, até então, a legitimidade dinástica.
A bandeira da República afasta em definitivo e como é óbvio a legitimidade dinástica. Contudo, a sua legitimidade não se torna ainda nacional.
Nem todos os portugueses reconhecem a bandeira verde-rubra. E não só os monárquicos, como boa parte dos republicanos, como se pode ver durante a polémica. Os actos de desrespeito e repúdio pelo símbolo nacional foram frequentes, não só entre civis como entre os militares. Houve mesmo os que se recusaram a jurar bandeira.
É que a simbólica verde-rubra comportava uma forte carga republicana e estava indissociavelmente ligada ao regime. A legitimidade da bandeira da República era uma legitimidade essencialmente política.
Só o tempo e sobretudo a travessia das vicissitudes políticas e militares do próprio regime, que a memória colectiva regista, vão conferindo à bandeira legitimidade nacional.
De facto, ao atravessar sem mácula as diferentes fases do regime - a República propriamente dita, a República Nova, a Nova República Velha - a bandeira vai ganhando expressão nacional.
Mas mais do que tudo isso são os acontecimentos militares da Grande Guerra, onde se defendem, sob a bandeira verde-rubra, os interesses portugueses na Europa e a integridade do território colonial em África, que Ihe confirmam a conotação nacional. Na memória colectiva Naulila e La Lys vêm juntar-se à já longa genealogia da gesta heróica dos Portugueses e, assim, recuperar o passado legitimando o presente.
A passagem do tempo e dos regimes políticos - a Ditadura Militar, o Estado Novo, o 25 de Abril - sob o mesmo símbolo faz com que se desenvolvam relações profundas e recíprocas entre a imagem da República e a imagem da Pátria que tendem a confundir-se no imaginário político nacional.
Ao fim deste longo e complexo processo a bandeira republicana ganha uma legitimidade que se torna plenamente nacional e que o poeta Bernardo Passos traduzia na sua expressão:
[...] Ela é tão nossa já, a guiar-nos os passos...
De tal forma diz Pátria, essa bandeira bela,
Que ou esta Pátria vive erguendo-a bem nos braços
Ou esta Pátria morre amortalhada nela!
Presidência da República
O simbolismo político não foge a esta constante do simbolismo em geral e a história da bandeira nacional não deixa de o confirmar.
A bandeira portuguesa foi durante a monarquia constitucional a bandeira azul-branca bipartida e encimada pelas armas reais, assentes metade sobre cada uma das cores.
Azul e branco haviam já sido decretadas "cores nacionais" após a revolução liberal de 1820, por decreto das Cortes Gerais da Nação em 22 de Agosto de 1821.
Entre o vintismo e a contra-revolução, o simbolismo acompanha as vicissitudes que a conjuntura política vai ditando e o registo simbólico das cores vai-se progressivamente inscrevendo em cada um dos campos em conflito - o branco no absolutismo e o azul-branco no constitucionalismo.
Dentro deste contexto, a regência de D. Pedro IV, por decreto de 18 de Outubro de 1830 da Junta Governativa da ilha Terceira, substitui a bandeira, até então integralmente branca, pela bandeira azul-branca. Triunfante em 1834, o liberalismo faz dela a bandeira nacional, que se manterá sem alteração durante todo o constitucionalismo monárquico até ao 5 de Outubro de 1910.
Como se chega então à bandeira verde-rubra da República, que ainda hoje é a nossa? Qual a sua origem? Qual o seu significado?
Uma genealogia do cromatismo verde-rubro na história das bandeiras portuguesas revela-nos um fenómeno tanto mais surpreendente quanto pouco conhecido, ou, pelo menos, pouco citado.
O verde e encarnado, embora nunca tenham constituído as bandeiras nacionais até à bandeira republicana, têm figurado em insígnias várias ligadas a alguns momentos altos da história portuguesa, de que se tornaram símbolo - a Guerra da Independência, os Descobrimentos Marítimos, a Guerra da Restauração.
Verde e vermelha (com a imagem de Nossa Senhora da Conceição ao centro) foi a bandeira da Ala dos Namorados na batalha de Aljubarrota; verde e vermelha (fundo verde sobre o qual assentava a cruz de Cristo vermelha) foi a bandeira dos Descobrimentos sob o reinado de D. Manuel I ; e igualmente verde e vermelha (idêntica a esta última) foi a bandeira empunhada em várias revoltas contra o domínio filipino, que seria, ela mesma, a bandeira da Revolução do 1° de Dezembro 1640.
Assim, e sem que nunca tenha constituído a bandeira nacional, o cromatismo verde-rubro não deixa de estar indissociavelmente ligado a alguns momentos significativos da história portuguesa, em particular à defesa da independência nacional.
Todavia, não pode confirmar-se que o verde e encarnado da bandeira republicana provenha destes antecedentes. O mais directo, se o quisermos, teremos de procurá-lo bem mais tarde, já no final do século XIX, e é, sem dúvida, a bandeira da revolta republicana do Porto de 31 de Janeiro de 1891.
A bandeira içada na Câmara Municipal do Porto na manhã de 31 de Janeiro de 1891, símbolo da revolta republicana, era de facto verde e vermelha. Totalmente vermelha com um círculo verde ao centro, a que se juntavam as legendas referentes ao centro republicano a que pertencia ¾ Centro Democrático Federal 15 de Novembro.
Esta bandeira, conhecida e designada pelos revoltosos como "a bandeira vermelha" - "Veja, está içada uma bandeira vermelha na Câmara", dizia J. Chagas - é, na sua essência simbólica, a bandeira da tradição revolucionária e popular. Primeiramente, símbolo do cartismo em Inglaterra, seria depois hasteada em Paris, nas jornadas revolucionárias de 1848 e durante a Comuna de 1870.
Ao fundo vermelho da tradição democrática e sindical vêm juntar-se insígnias e legendas várias, características dos clubes políticos a que pertenciam. Assim nasceram a grande maioria das bandeiras dos centros republicanos, tal como a do Centro Democrático Federal 15 de Novembro.
O certo, porém, é que a primeira bandeira da República desfraldada em Portugal foi "verde e encarnada". Malograda a revolução, a bandeira "verde-rubra" torna-se para os republicanos a marca fundamental, o símbolo da República, por ora vencida, mas nunca assumida como tal e que em vinte anos de luta havia de vencer, numa sequência de acções que o próprio Partido Republicano planeou.
De facto, ao longo desse período que decorre entre 1891 e 1910, conhecido na história do republicanismo português como o "Período da Propaganda", o Partido Republicano desenvolve uma luta acesa de propaganda política segundo duas estratégias. Por um lado, uma luta antimonárquica afirmando os grandes slogans ideológicos e políticos do ideal republicano: a "Decadência" a que a Monarquia de Bragança conduzira o País; contrapunham-lhe um nacionalismo patriótico e a restauração das glórias do Império; a coligação do Trono e do Altar, em substituição da qual propunham uma separação da Igreja e do Estado, ao que acrescentavam um pendor laico anticlerical; a "Corrupção" generalizada que grassava pelo País, contra a qual opunham a exigência de "probidade" política; e finalmente, o carácter tirânico do regime monárquico, de que a ditadura de João Franco era a simples concretização; contra a tirania opunham, obviamente, a Democracia. Por outro lado, em simultâneo, obedecendo a uma outra lógica e segundo uma outra estratégia, começa a desenvolver-se outra forma de propaganda - a construção da imagética e da simbólica republicanas.
Ao longo destes vinte anos, a simbólica verde-rubra da bandeira do 31 de Janeiro inscreve-se definitivamente no ideal republicano. Desde as artes mais nobres aos mais simples objectos de uso quotidiano, em toda a iconografia, que simboliza a República, é o verde e vermelho que a representa. De tal forma, que desde o virar do século a própria imagem da "República-Mulher", passa a trajar de verde-rubro.
E quando chega a jornada revolucionária de 3 a 5 de Outubro de 1910 que havia de implantar a República, a bandeira levantada pelos regimentos e navios revoltados era verde-rubra (bipartida, vermelha junto à tralha e a parte maior verde; esfera armilar de ouro assente em fundo azul; estrela de prata com resplendor em ouro. Foi esta a bandeira de Machado Santos na Rotunda e que, vitoriosa a revolução na manhã de 5 de Outubro, foi hasteada em todos os quartéis e finalmente substituiu a bandeira azul-branca no alto do Castelo de São Jorge.

Do azul-branco ao verde-rubro
Passados os primeiros dias de euforia revolucionária, o Governo Provisório, conhecendo a importância da simbólica política e sobretudo o seu impacte sobre a opinião pública, apressa-se a constituí-la para o novo regime, isto é, a determinar os símbolos em torno dos quais se pudesse formular a nova unidade nacional. Assim, e a par das grandes questões de ordem política que se impunham, a questão dos símbolos nacionais foi uma das prioridades do Governo.
Corria na opinião pública que o Conselho de Ministros se inclinava para a bandeira azul-branca. A Carbonária, porém, usando o peso da sua influência, granjeada na revolução, ter-se-ia oposto veementemente. Perante o impasse, decide o Governo formar uma comissão especialmente destinada ao estudo da bandeira e do hino nacionais.
Por decreto de 15 de Outubro de 1910 fica a comissão constituída por cinco elementos, todos eles figuras de relevo da vida nacional - o célebre pintor Columbano Bordalo Pinheiro, o romancista Abel Botelho, o jornalista e conhecido republicano João Chagas e ainda dois destacados combatentes da revolução de 5 de Outubro, o primeiro-tenente Ladislau Pereira e o capitão Afonso Palla.'
Não foi necessário esperar muito para que a comissão apresentasse ao Governo o resultado dos seus trabalhos. De facto, logo a 29 do mesmo mês apresenta um primeiro projecto, idêntico à bandeira da revolução de 5 de Outubro, com uma diferença -- a proporcionalidade e a localização das cores verde e vermelho inverte-se em relação à tralha.
Apreciado em Conselho de Ministros do dia 30 de Outubro, são levantados vários reparos e sugeridas algumas modificações. É apresentado segundo projecto, este já sem estrela e com ligeiras modificações na esfera armilar e enviado para apreciação do Conselho de Ministros a 6 de Novembro. Após longa e disputada polémica, e para gáudio dos defensores do verde-rubro e indignação dos partidários do azul-branco, a 29 de Novembro o Governo aprova o projecto da comissão, ao que se soube pela maioria de um voto.
Estava determinada a nova bandeira portuguesa. De imediato, e antes mesmo que pudesse ser aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, o Governo Provisório estabelece por decreto o dia 1 de Dezembro como sendo o da Festa da Bandeira.
Na manhã de 1 de Dezembro, frente à Câmara Municipal de Lisboa, lugar onde fora proclamada a República em 5 de Outubro, Escola Naval e Escola do Exército, em parada militar, e ao som de "A Portuguesa", prestam homenagem à bandeira "verde-rubra", agora feita bandeira nacional. O desfile das tropas, engrossado por uma multidão de populares em clima patriótico, sobe as ruas da Baixa lisboeta até aos Restauradores, cujo monumento saúda, e segue Avenida da Liberdade acima, até à Rotunda. À tarde seguiu-se um espectáculo no Teatro Nacional.
A Festa da Bandeira foi assim a primeira grande festa cívica, a primeira liturgia de consagração da República.
Porém, a escolha da bandeira verde-rubra e a sua consagração imediata, quando a decisão não era de forma alguma pacífica e, sobretudo, antes de ter sido sancionada pela Assembleia Nacional Constituinte, levanta uma violenta polémica que moveu algumas das figuras mais gradas da vida pública portuguesa e apaixonou a opinião pública nacional.
Em Lisboa, Porto e por todas as cidades de província multiplicam-se os projectos para a nova bandeira. Na imprensa periódica, em croquis afixados em clubes políticos, livrarias, tabacarias e outros estabelecimentos comerciais, em conferências e sessões públicas, desde as salas de teatro à Sociedade de Geografia, os diferentes autores divulgam e fazem a defesa empenhada dos seus projectos. Acreditava-se ainda que a Assembleia Constituinte podia votar um parecer contrário e os partidários do "azul-branco" reclamavam com insistência um plebiscito.
A polémica polariza-se em torno de duas grandes questões: uma, de primeira ordem, a das "cores" azul-branco/verde-rubro; outra, menos acesa, a das "armas" - em torno da esfera armilar.
Em defesa do verde e encarnado vêm a terreiro, para além da comissão, figuras tão prestigiosas como Afonso Costa, António José de Almeida e o próprio Presidente do Governo Provisório, Teófilo Braga. A defesa do "azul-branco" é encabeçada pela não menos prestigiosa figura do poeta Guerra Junqueiro, entre outras, como A. Braancamp Freire, António Arroio, Lopes de Mendonça, Sampaio Bruno.
Analisemos a polémica, procurando as narrativas de legitimação de cada uma das simbólicas em confronto.
Da totalidade dos projectos já identificados poderemos encontrar, a partir de um critério cromático, três tipologias distintas - uma, verde-rubra; outra, azul-branca; e uma terceira, de conciliação.
Metodologicamente, procuraremos expor a legitimidade invocada em cada uma das tipologias e exemplificaremos com alguns projectos de entre cada uma delas.

O verde-rubro
Não há discordância quando se trata de reconhecer a natureza e a função da Bandeira Nacional. Ela deverá ser a síntese "do significado social do povo que representa" e conter "a sua alma, o seu ideal, o seu carácter, a sua tradição e a sua história". Numa palavra, deverá ser o espírito nacional, objectivado pela linha e pela cor. E justamente a discordância começa na linha e na cor.
Para a comissão, a cor é o elemento primacial que mais cuidadosamente se alonga a justificar. Quanto ao branco, concorda com Guerra Junqueiro, simboliza a "inocência, a candura unânime, a pureza virgem" que é no fundo a alma portuguesa. Mas, para além desta sintonia com a alma nacional, há uma outra razão de carácter histórico - o branco foi a base de todas as bandeiras portuguesas desde a fundação da nacionalidade até ao constitucionalismo. "Da bandeira da República não pode pois desaparecer o Branco" - conclui o relatório. E contudo desapareceria.
Pelo contrário, o azul, para além da analogia visual com o céu e o mar (dois elementos da nossa "preferência ancestral e da nossa... Fatalidade histórica), nada tem "de notável, de basilar, de característico ou necessário" em relação à "nossa tradição e à nossa história".
O azul associado ao branco aparece apenas após 1830 e, pior do que isso, não procura significar a soberania nacional, antes chama à bandeira o culto católico de Nossa Senhora da Conceição, "preito à padroeira oficial do Reino" Além disso, o azul-branco estava inegavelmente ligado às "corruptas brandícias e suaves torpezas" da dinastia de Bragança. "Portanto", conclui a comissão, "para nós, histórica e moralmente o azul é uma cor condenada".
Com o vermelho tudo é diferente. Tal como o branco, não só invoca a alma nacional como tem longa tradição na história das bandeiras portuguesas. "O vermelho é a cor combativa, quente, viril, por excelência [...] a cor da conquista e do risco" tão intimamente ligada às "manifestações da lusa nacionalidade". Por outro lado, figura na bandeira desde D. João II e essa presença é agora reavivada com o verde a que se associa na bandeira da jornada gloriosa do 5 de Outubro.
O verde, sim, não teria ainda raízes na consciência nacional. Porém, "foi uma das cores que preparou e consagrou a revolução".
"Portanto", conclui o relatório, "as duas grandes cores fundamentais da Bandeira da nova República devem ser, bipartindo-a no sentido vertical, o vermelho-escarlate e o verde-mar."
Quanto às armas, propõe a comissão, a "esfera armilar", "padrão eterno do nosso génio aventureiro" e o escudo branco com quinas azuis "da fundação da nacionalidade".
Também Teófilo Braga, em polémico artigo de jornal, defende as suas cores - verde e encarnado.
Partindo da evolução histórica da bandeira nacional anatematiza o azul e branco e procura legitimar, com razões não ligadas ao republicanismo, as cores republicanas.
O azul-branco, além de recente, tem sobretudo uma tradição pouco brilhante na história heráldica portuguesa. Adoptado pelos revolucionários de 1820, é recuperado por D. Pedro IV após a Carta Constitucional de 1826 e depois da implantação do liberalismo. Ligada ao princípio da "outorga", "a bandeira azul-branca acompanha esta transição sofismando sempre o reconhecimento da soberania nacional".
Pelo contrário, o branco invoca D. Afonso Henriques e a fundação da nacionalidade, o vermelho, D. Afonso III e a conquista do Algarve, e o verde, a Ala dos Namorados em Aljubarrota. E assim dizia Teófilo: "Para justificar as cores republicanas, temos a cor vermelha da conquista do Algarve, em que se integrou o território português, e a cor verde do pendão vencedor em Aljubarrota, que reivindicou a autonomia de Portugal [...]".
No que respeita às armas, Teófilo propunha que se juntasse uma legenda camoniana à faixa zodiacal da esfera armilar: "Se mais mundos houvera [...]", ou, no caso de figurar o laço azul-branco dos revolucionários de 1820 na parte inferior da esfera, que se inscrevesse a divisa de D. João II - "A Lei, pela Grei".
A tese de Teófilo Braga foi largamente contestada, tanto no que respeita aos seus argumentos históricos como heráldicos. Porém, mais do que isso, importa o seu significado político.

O azul-branco
Guerra Junqueiro foi sem dúvida o grande tribuno da bandeira azul e branca, diligenciando junto da comissão e do próprio Governo Provisório, polemizando na imprensa e apresentando o seu projecto ao povo de Lisboa na Sociedade de Geografia.
Em artigo publicado na imprensa lisboeta desenvolve um longo estudo onde justifica as suas razões e expõe os seus pontos de vista.
Também para o poeta a bandeira deve traduzir a alma da nação e também para ele as cores são o problema fundamental.
Numa longa prosa poética explica o significado das cores e a sua relação com o génio português.
O branco "é candura, pureza perfeita, virtude sem mancha". O vermelho é "um excitante da vida, dá-lhe ardor, impele a acção, provoca a luta". O azul é "serenidade, bondade, graça ingénua, alegria cândida". O ouro "é glória, vitória, triunfo, êxtase e apoteose". São estas as cores da alma nacional. E assim como as cores devem traduzir o génio do povo, diz o poeta, também as armas e as "insignia" devem traduzir num "resumo instantâneo a história pátria".
Depois disso lança-se Junqueiro na análise da evolução histórica da bandeira nacional, da fundação à República, e conclui perguntando: "Expulsa a realeza caiu da bandeira inerte o diadema real. Só o diadema? E as cores? O azul e branco não se evolaram também?... O Pendão da Rotunda era verde e vermelho... O Pendão do 31 de Janeiro iluminou-se como o da Rotunda de vermelho e verde. O ódio à Monarquia, à farsa sinistra do Constitucionalismo depôs o azul e branco inteiramente? Não. Ao proclamar-se a República das varandas da Casa do Município ladeavam o estandarte vermelho e verde duas bandeiras azuis e brancas."
E assim, avança o modelo para a sua bandeira no tom poético que o caracteriza:
O Campo azul e branco permanece indelével. É o firmamento o mar o luar, o sonho dos nossos olhos o êxtase eterno das nossas almas.
Os castelos continuam em pé inabaláveis, de ouro de glória, num fundo de sangue ardente e generoso ...
A cruz do calvário, as das cinco chagas essa não morre, é o abraço divino, o abraço imortal...
A coroa do Rei, coroa de vergonhas, já o não envilece, o não vislumbra. No brasão dos sete castelos e das quinas erga-se de novo a esfera armilar da nossa glória...
E ao símbolo augusto do nosso génio ardente e aventuroso, coroemo-lo enfim de cinco estrelas em diadema dos cinco astros de luz vermelha e verde [ ...] dessa manhã heróica da rotunda.
Sampaio Bruno foi outro dos defensores acérrimos do azul-branco.
Para Bruno as cores da bandeira devem continuar a ser o azul e o branco. Mais, a bandeira "deve ser a mesma, somente tirando-se-lhe a coroa", coroa essa substituída no seu projecto "por uma estrela de ouro".
As razões invocadas são sumárias e bem menos poéticas que as de Junqueiro. "É que a bandeira azul e branca", diz, "com o seu escudo e a sua disposição, é a única que o preto de África conhece como representativa da soberania de Portugal."
O debate verde-rubro/azul-branco teve repercussão tal que chegou a ter tradução poética, numa polémica literária, com réplicas e tréplicas, na imprensa, entre duas figuras, hoje esquecidas na literatura portuguesa mas ao tempo muito em voga - a poetiza Luthegarda de Caires, defensora do azul-branco, e o poeta Humberto Beça, defensor do verde-rubro.

Os projectos de conciliação
Múltiplos e os mais diversos foram os projectos de conciliação com diferentes nuances de pendor mais azul-branco ou mais vermelho-verde.
A tese do major Santos Ferreira, autoridade reconhecida na matéria, defendida na imprensa e posteriormente em público na Sociedade de Geografia, parece conferir legitimidade aos projectos de conciliação.
Segundo Santos Ferreira, o azul-branco não são cores monárquicas. São, sim, as cores da fundação da nacionalidade e simultaneamente da reivindicação democrática das Cortes Constituintes de 1821.
Azul e branco não são, pois, as cores da Monarquia, mas antes as cores da Nacionalidade e da Liberdade.
Por outro lado, o vermelho e verde, "as cores das jornadas gloriosas de 4 e 5 de Outubro", não podem deixar de ser consideradas. Porém, diz Santos Ferreira: "[...] Sobrepor ao trabalho patriótico de três gerações de batalhadores infatigáveis a glória do episódio que aqueles prepararam durante quase um século afigura-se-me injusto [...]", e conclui: "Conservemos [...] a antiga bandeira azul e branca, não só porque representa para nós a ideia da independência afirmada há oito séculos pelos soldados de Afonso Henriques [...] mas ainda e principalmente porque ela representa o heróico esforço de três gerações de escravos para a conquista da liberdade agora finalmente atingida.
E às cores verde e vermelha? símbolos do epílogo desta gloriosa e longa jornada iniciada em 1820, demos um lugar honroso nessa mesma bandeira [ ...] ."
Estava legitimada a conciliação das duas simbólicas. E os projectos de conciliação multiplicaram-se e foram tantos ou tão poucos que mereceram mesmo a "paródia" de um projecto síntese, "projecto racional" de conciliação para todos os paladares.
De entre os vários projectos conciliatórios merece um destaque especial, tanto pela coerência da sua justificação teórica como pelo seu equilíbrio e harmonia estética, o projecto do poeta Delfim Guimarães, cuja execução gráfica pertenceu ao pintor Roque Gameiro.
Partindo da impossibilidade do restabelecimento da bandeira azul e branca e das críticas violentas feitas ao projecto da comissão (já que as cores revolucionárias escolhidas - verde-vermelho - "são cores complementares e absolutamente antagónicas"), procuram uma outra bandeira de conciliação, mas totalmente diversa das anteriores. E o resultado é tanto mais surpreendente quanto, sendo esteticamente mais correcto, dizia-se, era mais coerente com o relatório da comissão do que o seu próprio projecto.
À cor branca, cor nacional por excelência - que o relatório da comissão afirma não poder desaparecer da bandeira da República e acaba por banir -, juntam Roque Gameiro e Delfim Guimarães as cores revolucionárias verde e vermelho, dispostas em três barras horizontais: uma vermelha, em cima, uma branca, ao centro, de maior dimensão, e uma verde, em baixo.
O branco, além de atenuar "a crueza das cores verde e vermelha", admite que nele assente com maior harmonia plástica a esfera armilar e o escudo das quinas, que, para evitar outras "insignia", sem quebrar o equilíbrio, terminava em bico.
Assim, "com esta disposição mantêm-se na bandeira portuguesa as duas cores simbólicas da bandeira republicana, aliadas à antiga cor do pavilhão nacional".
A conciliação das cores teve também consagração poética, pela pena do poeta Alexandre Fontes, ele próprio autor de dois projectos para a bandeira nacional.
Esta longa e acesa polémica não teve, contudo, resultado político. O Governo Provisório, por princípio ou receio, nunca aceitou o plebiscito, e a Assembleia Nacional Constituinte, na sua sessão de abertura, ao mesmo tempo que decreta a abolição da Monarquia sanciona o projecto aprovado pelo Governo para a bandeira e para o hino nacionais.
Por decreto de 19 de Julho de 1911, a Bandeira Nacional passa a ser em definitivo "bipartida verticalmente em duas cores fundamentais, verde escuro e escarlate, ficando o verde escuro do lado da tralha. Ao centro e sobreposto à união das duas cores terá o escudo das armas nacionais orlado de branco e assente sobre a Esfera Armilar em amarelo avivada a negro".
Dias depois era publicado o parecer técnico sobre as medidas e proporções da bandeira nacional, como das bandeiras regimentais e do Jack para os navios.
Estava definitivamente consagrada a nova bandeira da República Portuguesa.
A vitória da bandeira verde-rubra é, pode dizer-se, a vitória da ala jacobina do republicanismo e consagra simbolicamente os princípios ideológicos e políticos da propaganda republicana.
De facto, se procurarmos sob o discurso de legitimidade nacional invocado para justificar o cromatismo "verde-rubro" - da simbólica das cores a que corresponderia o génio português aos episódios histórico-militares da memória heróica a que estariam associadas -, encontramos um discurso outro, cujo registo de legitimidade se encontra, não no plano das razões nacionais, mas sim no da tradição republicana.
Na simbólica da bandeira poder-se-á dizer que as cores são o elemento de ruptura, enquanto as armas são o elemento de continuidade histórica, mas ambos conformes aos princípios republicanos.
Ao banir o azul-branco, a bandeira da República bania de um só golpe a marca simbólica da "Monarquia corrupta de Bragança" e a alusão ao culto católico da padroeira, no respeito da mais estrita tradição antimonárquica, laica e anticlerical do republicanismo.
O vermelho, herdado da bandeira do 31 de Janeiro, é a cor dos movimentos revolucionários e populares, marca indelével da matriz política democrática da tradição republicana.
O verde, herdado das bandeiras do 31 de Janeiro e do 5 de Outubro, é também a cor destinada por A. Comte aos pavilhões das nações positivas do futuro, como o relatório da própria comissão deixa transparecer. O verde marca assim a matriz ideológica positivista do republicanismo.
O escudo dos quinas e a esfera armilar evocam os dois momentos mais altos da história portuguesa que o imaginário político republicano opunha à decadência do constitucionalismo - a fundação da nacionalidade e a epopeia marítima. Marcam, pois, a matriz nacionalista e colonial do republicanismo histórico.
A bandeira verde-rubra, antes de ser Bandeira Nacional, é essencialmente a bandeira da República.

O verde-rubro - Da legitimidade republicana à legitimidade nacional.
Durante os regimes monárquicos, a bandeira dos estados era o estandarte da Casa Real. A bandeira era o símbolo da terra e do povo na medida em que o era do seu soberano. A bandeira nacional era a bandeira da dinastia reinante.
Só depois das revoluções liberais e dos nacionalismos do século XIX se começa a associar a bandeira aos conceitos de soberania e nacionalidade. A partir daqui começa a dissociar-se o Estandarte Real, indicativo do Chefe do Estado, da bandeira, símbolo nacional. A legitimidade da bandeira era, até então, a legitimidade dinástica.
A bandeira da República afasta em definitivo e como é óbvio a legitimidade dinástica. Contudo, a sua legitimidade não se torna ainda nacional.
Nem todos os portugueses reconhecem a bandeira verde-rubra. E não só os monárquicos, como boa parte dos republicanos, como se pode ver durante a polémica. Os actos de desrespeito e repúdio pelo símbolo nacional foram frequentes, não só entre civis como entre os militares. Houve mesmo os que se recusaram a jurar bandeira.
É que a simbólica verde-rubra comportava uma forte carga republicana e estava indissociavelmente ligada ao regime. A legitimidade da bandeira da República era uma legitimidade essencialmente política.
Só o tempo e sobretudo a travessia das vicissitudes políticas e militares do próprio regime, que a memória colectiva regista, vão conferindo à bandeira legitimidade nacional.
De facto, ao atravessar sem mácula as diferentes fases do regime - a República propriamente dita, a República Nova, a Nova República Velha - a bandeira vai ganhando expressão nacional.
Mas mais do que tudo isso são os acontecimentos militares da Grande Guerra, onde se defendem, sob a bandeira verde-rubra, os interesses portugueses na Europa e a integridade do território colonial em África, que Ihe confirmam a conotação nacional. Na memória colectiva Naulila e La Lys vêm juntar-se à já longa genealogia da gesta heróica dos Portugueses e, assim, recuperar o passado legitimando o presente.
A passagem do tempo e dos regimes políticos - a Ditadura Militar, o Estado Novo, o 25 de Abril - sob o mesmo símbolo faz com que se desenvolvam relações profundas e recíprocas entre a imagem da República e a imagem da Pátria que tendem a confundir-se no imaginário político nacional.
Ao fim deste longo e complexo processo a bandeira republicana ganha uma legitimidade que se torna plenamente nacional e que o poeta Bernardo Passos traduzia na sua expressão:
[...] Ela é tão nossa já, a guiar-nos os passos...
De tal forma diz Pátria, essa bandeira bela,
Que ou esta Pátria vive erguendo-a bem nos braços
Ou esta Pátria morre amortalhada nela!
Presidência da República
Quinta-feira, Janeiro 15
VIEIRA DA SILVA
Pintora: 1908 – 1992
QUANDO TUDO ACONTECEU...
1908: Nasce em Lisboa.
1911: Morre seu pai. Instala-se com sua mãe na casa do avô materno
1919: Recebe lições de música, pintura e desenho. 1924: Estuda escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa.
1928: Vai com sua mãe para Paris. Frequenta a Academia La Grand Chaumière e o atelier de Bourdelle. Visita Itália.
1930: Casa com o pintor Arpad Szenes. Conhece a Hungria e a Transilvânia.
1933: Primeira Exposição individual, em Paris.
1934: Adoece com icterícia.
1940: O Estado português recusa-lhe a nacionalidade. Parte com o marido para o Brasil.
1942/46: Participa em várias exposições no Brasil. - 1947: Regressa a Paris.
1956: Recebe a nacionalidade francesa.
1960: Recebe o grau de Chevalier de L’Orde des Arts et des Lettres do estado francês.
1964: Morre a mãe; realiza o seu primeiro vitral.
1975: Realiza dois projectos de cartazes alusivos ao 25 de Abril.
1985: Morre Arpard Szenes.
1988: Inauguração da estação do Metro da Cidade Universitária (Lisboa), decoração por si concebida. - 1990: Criação da Fundação Vieira da Silva-Arpad Szenes.
1991: Recebe o Officer de la Légion d’Honneur. - 1992: Morre em Paris.
O PRINCÍPIO DO CAMINHO
Lisboa, 1908, dia de Santo António, o padroeiro da cidade. O diplomata Marcos Vieira da Silva é pai pela primeira vez. Sua mulher, Maria da Graça, teve uma filha a quem é dado nome de Maria Helena Vieira da Silva. Não terá a companhia do pai por muitos anos.
Maria Helena tem cerca de dois anos quando parte com a família e a sua preceptora para a Suíça. Não se trata de missão diplomática. O pai sofre da doença que muitos vitima no reino de Portugal - a tuberculose; e a Suíça tem bons ares, bons sanatórios – é a esperança de uma cura. Para Maria Helena será a neve, as montanhas, a tranquilidade de uma infância. Mas não por muito tempo. Em Fevereiro de 1911 o pai morre. É uma perda que não se esquece.
A família regressa a Lisboa. Instala-se na casa do avô materno. Homem de ideais republicanos e editor, director do jornal "O Século". Tudo é agora diferente. À serenidade da Suíça contrapõe-se a agitação que se vive em Portugal.
Lisboa é uma cidade de convulsões. A República tinha sido implantada no ano anterior, e nem a todos agrada. Os movimentos políticos são muitos. As ideias estão ainda em ebulição.
Até 1926 Portugal terá cerca de 50 governos. As revoluções são uma constante. De permeio, Portugal participa ainda na 1ª Grande Guerra. Ao clima de instabilidade política junta-se também a económica e social. É necessário recorrer a empréstimos estrangeiros e, enquanto isso, os trabalhadores reclamam pelo seus direitos. Tempos difíceis estes. Muitos anseiam que venha alguém que ponha tudo em ordem.
Maria Helena está protegida de tudo isto. Vive na grande casa de seu avô. Um mundo de adultos. Não frequenta a escola. A educação é feita em casa. A própria mãe toma isso a seu cargo. Aprende a ler e a escrever em português, francês e inglês. Não tem a companhia de outras crianças. Momentos há em que sente tristeza, angústias, talvez a solidão, como ela própria o dirá mais tarde:
Era a única criança, numa casa muito grande, onde me perdia, onde havia muita coisa, muitos livros ... não tinha amiguinhas, não ia à escola....
Quando a guerra rebenta, a mãe e a tia refugiam-se na leitura do Apocalipse de que Maria Helena é ouvinte. São imagens que lhe ficam e que se hão-de juntar a outras, de outras guerras.
Aos 5 anos faz desenhos, aos 13 pinta a óleo. Dado o interesse da criança, a família apoia a aprendizagem. Emilia Santos Braga será a primeira professora; aliás tem já várias discípulas, às quais ensina no seu estilo de pintora da escola académica. A pintura estará a cargo do Professor da Escola de Belas Artes, Armando Lucena. A música chega a atraí-la, faz composição. Não se considera com talento, optará pela pintura.
Em 1916 a Mãe compra uma casa em Sintra. Alguns Verões serão aí passados. A paisagem que a rodeia impressiona-a, questionando-se como representar tudo o que vê. Mais tarde há-de querer mostrar Sintra ao marido, explicando-a com uma pintura.
Na Escola de Belas Artes de Lisboa frequenta um curso de escultura. A anatomia também a interessa; para melhor a aprender frequenta a disciplina na Escola de Medicina. Em 1926 muda-se para outra casa que a mãe adquire em Lisboa. Mas esta cidade não lhe basta:
Já não podia progredir em Lisboa, a pintura que aí fazia não me satisfazia, não sabia o que fazer, nem como fazer.
Tem de procurar outros caminhos. Dois anos mais tarde parte para Paris, a acompanhá-la vai sua mãe.
E DEPOIS HÁ O CAMINHO DOS OUTROS
Paris é um grande centro. Os grandes movimentos artísticos do século anterior estão ainda muito presentes, ao mesmo tempo que outros surgem. É uma constante mutação. As inovações de Van Gogh, de Gauguin, de Cezanne influenciam muitos dos artistas.
Mãe e filha alojam-se no Medical Hotel, local onde estão instalados ateliers de outros artistas, para além de um ringue de boxe. Maria Helena visita os museus, conhece as obras de mestres. Um deles impressiona-a: Cezanne. Mais tarde há-de inspirar-se num seu quadro para fazer uma tela - "Os jogadores de cartas".
Em Paris contacta com os seus contemporâneos, Picasso, Duchamp, Braque. Está atenta aos novos movimentos, mas não se insere em nenhum. São formas de prisão que não aceita.
Em 1928 visita a Itália. Observa as obras dos grandes mestres italianos. Estuda a perspectiva, as formas. De tudo tira lições para melhor encontrar o seu próprio caminho. Quer que os seus quadros transmitam tudo o que a faz admirar - a forma, o som, o cheiro. Um dia ela própria o dirá:
Procuro pintar algo dos espaços, dos ritmos, dos movimentos das coisas.
De regresso a Paris frequenta a Academia de la Grande Chaumière onde faz escultura no curso do Professor Bourdelle. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, participa numa exposição no Salon de Paris.
Em Paris está também Arpard Szenes, pintor húngaro, alguns anos mais velho. Conhecem-se. Não mais se hão-de separar. O trabalho de Vieira da Silva surpreende-o:
Quadros a tal ponto poéticos, simples, adultos, que fiquei profundamente impressionado.
Arpard incentiva-a na sua pintura, na procura do seu caminho. Para lhe facilitar o trabalho dá-lhe apoio moral e financeiro. Em 1930 casam e no mesmo ano visitam a Hungria e a Transilvânia. Da viagem, Maria Helena recolhe a imensidão do espaço, a paisagem que observa. É a contínua busca de uma forma de ver. Quando voltam instalam-se em Paris, na Villa das Camélias. Participam com outros nas reuniões dos "Amis du Monde". Aí discutem ideias, correntes, caminhos, divagações. E a pintura de Vieira da Silva vai-se tornando um pouco mais abstracta. Mais do que se vê, importa como é que se vê. O casal não pára de trabalhar. Participam nalgumas exposições. Não tardará a primeira individual. Será Jeanne Bucher, galerista, que a organiza em 1933, onde será também apresentado o livro infantil Ko et Ko, com ilustrações da pintora.
No ano seguinte Vieira da Silva vende o seu primeiro quadro, o comprador é também pintor - Campigli.
Em 1935 Vieira da Silva adoece com icterícia . A doença ataca-a de forma violenta, obrigando-a a permanecer de cama. Não lhe é fácil estar parada. È desta época a tela "O Quarto dos Azulejos". Ao tema português do azulejo, junta-se uma nova forma de representação do espaço. Às vezes a doença descobre outros caminhos...
Em Portugal, António Pedro, o encenador e escritor, prepara a primeira exposição. É necessário vir para cá, e sempre ajuda ao restabelecimento. Para além do mais, em Lisboa, tem também um atelier, na casa que mãe comprara anos antes.
A estadia prolonga-se por algum tempo o que permite a Vieira da Silva e Arpad Szenes realizarem um exposição no seu atelier.
De regresso a Paris volta a expôr. Entretanto, por encomenda, faz cópias de Braque e de Matisse, para projectos de tapeçarias. O casal vai agora viver no Boulevard Saint-Jacques. Não ficarão lá por muito tempo.
E OS CAMINHOS DO MUNDO...
Na Alemanha a ascenção de Hitler não pára. Os conflitos políticos sucedem-se. Os acordos não fazem cessar os problemas. Em 1939 a Alemanha invade a Polónia. É o limite. A França e Inglaterra declaram-lhe a guerra, começa a II Guerra Mundial. Até 1945 a Europa não saberá o que é a paz.
Portugal mantém a velha aliança com a Inglaterra. Mas ao mesmo tempo não lhe agrada a ideia de combater contra a Alemanha de Hitler. Ou não esteja Salazar no Governo... Portugal tentará ficar fora do conflito. Pelo menos aparentemente, pois sempre poderá ganhar alguma coisa... fica só e com todos. Habilidades de um político. E depois é sempre bom para a espionagem, há um sítio para se conversar... e todos serão benvindos. Claro, que haverá sempre excepções, que no país não se quer comunistas.
Vieira da Silva está em França quando a guerra rebenta. Já não tem a nacionalidade portuguesa devido ao casamento. Mas nunca deixou de vir a Portugal, onde tem um atelier, e mais uma vez o casal decide regressar. Sempre poderá estar num sítio mais tranquilo.
Em Lisboa prepara-se a Exposição do Mundo Português. Enquanto a Europa está em guerra, o governo quer exibir o orgulho de um passado heróico e de um presente em paz. Muitos artistas são chamados a colaborar. Toda a cidade se prepara para os visitantes que espera ter. O Secretariado da Propaganda Nacional incentiva uma exposição de montras na Rua Garrett, a decoração será feita por diversos artistas. Entre eles, Vieira da Silva que faz "Luva com Flores" para a casa "Luva Verde", "Sapatos de 7 léguas" para a "Sapataria Garrett, e ainda "Bailado de Tesouras" para a "Sheffield House". Por esta última há-de receber um prémio. Pinta também por encomenda do Estado um quadro com destino à Exposição.
Durante a estadia no país Vieira da Silva decide pedir que lhe seja devolvida a nacionalidade portuguesa. Invoca motivos, é já uma artista conhecida. Mas o governo português é lá de ligar às artes... E ainda para mais de uma pintora moderna... Tem outras preocupações. Casada com um húngaro? Certamente é um comunista que se quer infiltrar. Sabe-se lá que perigos poderiam advir. Talvez se houvesse um divórcio?! Arpad Szenes ainda coloca tal hipótese, esteve sempre interessado em apoiar a mulher. Vieira da Silva não aceita, casada está, casada fica. Consequência: a nacionalidade portuguesa é-lhe recusada. E quanto ao quadro que se destinava à Exposição, também não é aceite. Coisa triste nascer num país que não nos quer. Melhor será partir.
DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO...
O casal instala-se no Rio de Janeiro. No Brasil não é ainda possível um artista viver dos quadros que pinta. Para além do mais, são artistas que não estão inseridos nas correntes figurativas tão em voga do Brasil. E depois há os críticos, que nada ajudam a que o público visite as exposições dos novos artistas.
Arpad Szenes decide dedicar-se ao retrato, mais tarde ao ensino artístico. Sempre dá para sobreviver. Vieira da Silva pinta cerâmica, azulejos. Tentam algumas exposições, mas a participação não é animadora.. É tudo tão diferente da Europa... Fazem alguns amigos. Entre eles estão Murilo Mendes e Cecília Meireles. Desta última há-de fazer um retrato.
Da Europa continuam a chegar as noticias da guerra. Vieira da Silva tem momentos de tristeza. Pensa no que se passa . Imagina o que não vê, lembra-se das outras guerras e das leituras do Apocalipse. Quando lhe são contadas as experiências vividas, Vieira da Silva decide pintar "O Desastre". É a realidade de guerra. Não são momentos fáceis de viver. Para atenuar, vem a encomenda de um painel de azulejos para Escola Agrícola do Distrito Federal, Rio de Janeiro. "Quilómetro 44" é o titulo.
Entretanto, Ardenquin, pintor uruguaio, envia fotografias de telas de Vieira da Silva ao seu amigo e também pintor - Torres Garcia. O artigo que este escreve na revista Alfar é de tal forma favorável que Vieira da Silva sente um novo ânimo.
Em 1945 a guerra acaba. Ficará ainda no Brasil algum tempo. Dois anos mais tarde o próprio governador de Minas Gerais convida o casal a expôr em Belo Horizonte. Enquanto isso, Jeanne Bucher organiza em Nova York a primeira exposição individual de Vieira da Silva
É agora tempo de regressar a França. Arpad irá mais tarde pois tem ainda o curso para terminar.
O FIM DE UM CAMINHO PERCORRIDO
Vieira da Silva é cada vez mais reconhecida. O estado francês sabe a apreciar o seu mérito. Pela primeira vez adquire uma obra sua. Irá fazê-lo mais vezes.
As exposições individuais sucedem-se - Londres, Nova York, Basileia, Lille, Genebra. Ao mesmo tempo recebe prémios pelas suas obras - S. Paulo, Caracas. É reconhecida internacionalmente. Bem o dissera Vieira da Silva quando fez o pedido de nacionalidade a Portugal... Agora é demasiado tarde. Em 1956 é naturalizada francesa, o próprio Estado francês o decretou.
É tempo agora de possuir melhores condições para poder fazer o seu trabalho. Adquire um terreno na Rue de l’Abbé Carton onde o arquitecto Johannet lhe projecta uma casa em que terá o seu próprio atelier. Tudo terá mais espaço.
No ano seguinte a sua mãe vem viver para Paris. Até ao ano da sua morte, em 1964, não terá outra residência.
O Estado francês atribui agora a Vieira da Silva o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras; em 1963 será a vez do grau de Comendador.
Já não é só à pintura que Vieira da Silva se dedica. A tapeçaria e o vitral terão também a sua atenção. Em 1965, é-lhe feita a encomenda de 8 vitrais para a Igreja de Saint Jacques, nos quais irá trabalhar durante algum tempo. Entretanto, vão-se sucedendo as retrospectiva sobre a pintora em várias cidades. Entre elas, a de Lisboa, que estará a cargo da Fundação Gulbenkian.
Em 1974, Portugal conhece finalmente o fim de um regime que não favorecia propriamente os artistas. É a revolução dos cravos. Vieira da Silva não fica indiferente aos acontecimentos que ocorrem no país onde nasceu. Faz dois cartazes sobre a revolução, que mais uma vez a Função Gulbenkian se encarregará de editar.
O trabalho da pintora é cada vez mais importante. Muitos são aqueles que a admiram. Chegou agora a vez de fazer uma encomenda para Portugal.
Em 1983 aceita o convite para realizar a decoração da nova estação do Metro de Lisboa - Cidade Universitária.
Arpad Szenes não assistirá à inauguração. Nos princípios de 1985 morre. A estação só será inaugurada 3 anos mais tarde.
A perda do companheiro de tantos anos afecta naturalmente a sua pintura. A cor altera-se, é outra forma de luminosidade. É no ano seguinte que pinta "O fim do mundo"
Vieira da Silva tem ainda tempo para ver a Fundação com o seu nome e do seu marido ser criada em Lisboa. No mesmo ano em que é operada ao coração -1990.
No ano seguinte o Estado francês demonstra mais uma vez o apreço em que a tem - é-lhe atribuído o grau de Oficial da Legião de Honra.
Apesar de tudo, Vieira da Silva continua a pintar. Sabe que o outro lado não estará muito longe. Ainda em 1992 pinta uma sucessão de têmperas, com o título "Luta com um anjo". É o prenúncio do fim. Vieira da Silva não é dada a grandes místicas, mas há sempre interrogações que se colocam:
Às vezes, pelo caminho da arte, experimento súbitas, mas fugazes iluminações e então sinto por momentos uma confiança total, que está além da razão. Algumas pessoas entendidas que estudaram essas questões dizem-me que a mística explica tudo. Então é preciso dizer que não sou suficientemente mística. E continuo a acreditar que só a morte me dará a explicação que não consigo encontrar.
A 6 de Março de 1992, Vieira da Silva morre em Paris.
Partiu ao encontro de uma explicação. Será que a terá encontrado?
http://www.fasvs.pt/toppage1.htm
QUANDO TUDO ACONTECEU...
1908: Nasce em Lisboa.
1911: Morre seu pai. Instala-se com sua mãe na casa do avô materno
1919: Recebe lições de música, pintura e desenho. 1924: Estuda escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa.
1928: Vai com sua mãe para Paris. Frequenta a Academia La Grand Chaumière e o atelier de Bourdelle. Visita Itália.
1930: Casa com o pintor Arpad Szenes. Conhece a Hungria e a Transilvânia.
1933: Primeira Exposição individual, em Paris.
1934: Adoece com icterícia.
1940: O Estado português recusa-lhe a nacionalidade. Parte com o marido para o Brasil.
1942/46: Participa em várias exposições no Brasil. - 1947: Regressa a Paris.
1956: Recebe a nacionalidade francesa.
1960: Recebe o grau de Chevalier de L’Orde des Arts et des Lettres do estado francês.
1964: Morre a mãe; realiza o seu primeiro vitral.
1975: Realiza dois projectos de cartazes alusivos ao 25 de Abril.
1985: Morre Arpard Szenes.
1988: Inauguração da estação do Metro da Cidade Universitária (Lisboa), decoração por si concebida. - 1990: Criação da Fundação Vieira da Silva-Arpad Szenes.
1991: Recebe o Officer de la Légion d’Honneur. - 1992: Morre em Paris.
O PRINCÍPIO DO CAMINHO
Lisboa, 1908, dia de Santo António, o padroeiro da cidade. O diplomata Marcos Vieira da Silva é pai pela primeira vez. Sua mulher, Maria da Graça, teve uma filha a quem é dado nome de Maria Helena Vieira da Silva. Não terá a companhia do pai por muitos anos.
Maria Helena tem cerca de dois anos quando parte com a família e a sua preceptora para a Suíça. Não se trata de missão diplomática. O pai sofre da doença que muitos vitima no reino de Portugal - a tuberculose; e a Suíça tem bons ares, bons sanatórios – é a esperança de uma cura. Para Maria Helena será a neve, as montanhas, a tranquilidade de uma infância. Mas não por muito tempo. Em Fevereiro de 1911 o pai morre. É uma perda que não se esquece.
A família regressa a Lisboa. Instala-se na casa do avô materno. Homem de ideais republicanos e editor, director do jornal "O Século". Tudo é agora diferente. À serenidade da Suíça contrapõe-se a agitação que se vive em Portugal.
Lisboa é uma cidade de convulsões. A República tinha sido implantada no ano anterior, e nem a todos agrada. Os movimentos políticos são muitos. As ideias estão ainda em ebulição.
Até 1926 Portugal terá cerca de 50 governos. As revoluções são uma constante. De permeio, Portugal participa ainda na 1ª Grande Guerra. Ao clima de instabilidade política junta-se também a económica e social. É necessário recorrer a empréstimos estrangeiros e, enquanto isso, os trabalhadores reclamam pelo seus direitos. Tempos difíceis estes. Muitos anseiam que venha alguém que ponha tudo em ordem.
Maria Helena está protegida de tudo isto. Vive na grande casa de seu avô. Um mundo de adultos. Não frequenta a escola. A educação é feita em casa. A própria mãe toma isso a seu cargo. Aprende a ler e a escrever em português, francês e inglês. Não tem a companhia de outras crianças. Momentos há em que sente tristeza, angústias, talvez a solidão, como ela própria o dirá mais tarde:
Era a única criança, numa casa muito grande, onde me perdia, onde havia muita coisa, muitos livros ... não tinha amiguinhas, não ia à escola....
Quando a guerra rebenta, a mãe e a tia refugiam-se na leitura do Apocalipse de que Maria Helena é ouvinte. São imagens que lhe ficam e que se hão-de juntar a outras, de outras guerras.
Aos 5 anos faz desenhos, aos 13 pinta a óleo. Dado o interesse da criança, a família apoia a aprendizagem. Emilia Santos Braga será a primeira professora; aliás tem já várias discípulas, às quais ensina no seu estilo de pintora da escola académica. A pintura estará a cargo do Professor da Escola de Belas Artes, Armando Lucena. A música chega a atraí-la, faz composição. Não se considera com talento, optará pela pintura.
Em 1916 a Mãe compra uma casa em Sintra. Alguns Verões serão aí passados. A paisagem que a rodeia impressiona-a, questionando-se como representar tudo o que vê. Mais tarde há-de querer mostrar Sintra ao marido, explicando-a com uma pintura.
Na Escola de Belas Artes de Lisboa frequenta um curso de escultura. A anatomia também a interessa; para melhor a aprender frequenta a disciplina na Escola de Medicina. Em 1926 muda-se para outra casa que a mãe adquire em Lisboa. Mas esta cidade não lhe basta:
Já não podia progredir em Lisboa, a pintura que aí fazia não me satisfazia, não sabia o que fazer, nem como fazer.
Tem de procurar outros caminhos. Dois anos mais tarde parte para Paris, a acompanhá-la vai sua mãe.
E DEPOIS HÁ O CAMINHO DOS OUTROS
Paris é um grande centro. Os grandes movimentos artísticos do século anterior estão ainda muito presentes, ao mesmo tempo que outros surgem. É uma constante mutação. As inovações de Van Gogh, de Gauguin, de Cezanne influenciam muitos dos artistas.
Mãe e filha alojam-se no Medical Hotel, local onde estão instalados ateliers de outros artistas, para além de um ringue de boxe. Maria Helena visita os museus, conhece as obras de mestres. Um deles impressiona-a: Cezanne. Mais tarde há-de inspirar-se num seu quadro para fazer uma tela - "Os jogadores de cartas".
Em Paris contacta com os seus contemporâneos, Picasso, Duchamp, Braque. Está atenta aos novos movimentos, mas não se insere em nenhum. São formas de prisão que não aceita.
Em 1928 visita a Itália. Observa as obras dos grandes mestres italianos. Estuda a perspectiva, as formas. De tudo tira lições para melhor encontrar o seu próprio caminho. Quer que os seus quadros transmitam tudo o que a faz admirar - a forma, o som, o cheiro. Um dia ela própria o dirá:
Procuro pintar algo dos espaços, dos ritmos, dos movimentos das coisas.
De regresso a Paris frequenta a Academia de la Grande Chaumière onde faz escultura no curso do Professor Bourdelle. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, participa numa exposição no Salon de Paris.
Em Paris está também Arpard Szenes, pintor húngaro, alguns anos mais velho. Conhecem-se. Não mais se hão-de separar. O trabalho de Vieira da Silva surpreende-o:
Quadros a tal ponto poéticos, simples, adultos, que fiquei profundamente impressionado.
Arpard incentiva-a na sua pintura, na procura do seu caminho. Para lhe facilitar o trabalho dá-lhe apoio moral e financeiro. Em 1930 casam e no mesmo ano visitam a Hungria e a Transilvânia. Da viagem, Maria Helena recolhe a imensidão do espaço, a paisagem que observa. É a contínua busca de uma forma de ver. Quando voltam instalam-se em Paris, na Villa das Camélias. Participam com outros nas reuniões dos "Amis du Monde". Aí discutem ideias, correntes, caminhos, divagações. E a pintura de Vieira da Silva vai-se tornando um pouco mais abstracta. Mais do que se vê, importa como é que se vê. O casal não pára de trabalhar. Participam nalgumas exposições. Não tardará a primeira individual. Será Jeanne Bucher, galerista, que a organiza em 1933, onde será também apresentado o livro infantil Ko et Ko, com ilustrações da pintora.
No ano seguinte Vieira da Silva vende o seu primeiro quadro, o comprador é também pintor - Campigli.
Em 1935 Vieira da Silva adoece com icterícia . A doença ataca-a de forma violenta, obrigando-a a permanecer de cama. Não lhe é fácil estar parada. È desta época a tela "O Quarto dos Azulejos". Ao tema português do azulejo, junta-se uma nova forma de representação do espaço. Às vezes a doença descobre outros caminhos...
Em Portugal, António Pedro, o encenador e escritor, prepara a primeira exposição. É necessário vir para cá, e sempre ajuda ao restabelecimento. Para além do mais, em Lisboa, tem também um atelier, na casa que mãe comprara anos antes.
A estadia prolonga-se por algum tempo o que permite a Vieira da Silva e Arpad Szenes realizarem um exposição no seu atelier.
De regresso a Paris volta a expôr. Entretanto, por encomenda, faz cópias de Braque e de Matisse, para projectos de tapeçarias. O casal vai agora viver no Boulevard Saint-Jacques. Não ficarão lá por muito tempo.
E OS CAMINHOS DO MUNDO...
Na Alemanha a ascenção de Hitler não pára. Os conflitos políticos sucedem-se. Os acordos não fazem cessar os problemas. Em 1939 a Alemanha invade a Polónia. É o limite. A França e Inglaterra declaram-lhe a guerra, começa a II Guerra Mundial. Até 1945 a Europa não saberá o que é a paz.
Portugal mantém a velha aliança com a Inglaterra. Mas ao mesmo tempo não lhe agrada a ideia de combater contra a Alemanha de Hitler. Ou não esteja Salazar no Governo... Portugal tentará ficar fora do conflito. Pelo menos aparentemente, pois sempre poderá ganhar alguma coisa... fica só e com todos. Habilidades de um político. E depois é sempre bom para a espionagem, há um sítio para se conversar... e todos serão benvindos. Claro, que haverá sempre excepções, que no país não se quer comunistas.
Vieira da Silva está em França quando a guerra rebenta. Já não tem a nacionalidade portuguesa devido ao casamento. Mas nunca deixou de vir a Portugal, onde tem um atelier, e mais uma vez o casal decide regressar. Sempre poderá estar num sítio mais tranquilo.
Em Lisboa prepara-se a Exposição do Mundo Português. Enquanto a Europa está em guerra, o governo quer exibir o orgulho de um passado heróico e de um presente em paz. Muitos artistas são chamados a colaborar. Toda a cidade se prepara para os visitantes que espera ter. O Secretariado da Propaganda Nacional incentiva uma exposição de montras na Rua Garrett, a decoração será feita por diversos artistas. Entre eles, Vieira da Silva que faz "Luva com Flores" para a casa "Luva Verde", "Sapatos de 7 léguas" para a "Sapataria Garrett, e ainda "Bailado de Tesouras" para a "Sheffield House". Por esta última há-de receber um prémio. Pinta também por encomenda do Estado um quadro com destino à Exposição.
Durante a estadia no país Vieira da Silva decide pedir que lhe seja devolvida a nacionalidade portuguesa. Invoca motivos, é já uma artista conhecida. Mas o governo português é lá de ligar às artes... E ainda para mais de uma pintora moderna... Tem outras preocupações. Casada com um húngaro? Certamente é um comunista que se quer infiltrar. Sabe-se lá que perigos poderiam advir. Talvez se houvesse um divórcio?! Arpad Szenes ainda coloca tal hipótese, esteve sempre interessado em apoiar a mulher. Vieira da Silva não aceita, casada está, casada fica. Consequência: a nacionalidade portuguesa é-lhe recusada. E quanto ao quadro que se destinava à Exposição, também não é aceite. Coisa triste nascer num país que não nos quer. Melhor será partir.
DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO...
O casal instala-se no Rio de Janeiro. No Brasil não é ainda possível um artista viver dos quadros que pinta. Para além do mais, são artistas que não estão inseridos nas correntes figurativas tão em voga do Brasil. E depois há os críticos, que nada ajudam a que o público visite as exposições dos novos artistas.
Arpad Szenes decide dedicar-se ao retrato, mais tarde ao ensino artístico. Sempre dá para sobreviver. Vieira da Silva pinta cerâmica, azulejos. Tentam algumas exposições, mas a participação não é animadora.. É tudo tão diferente da Europa... Fazem alguns amigos. Entre eles estão Murilo Mendes e Cecília Meireles. Desta última há-de fazer um retrato.
Da Europa continuam a chegar as noticias da guerra. Vieira da Silva tem momentos de tristeza. Pensa no que se passa . Imagina o que não vê, lembra-se das outras guerras e das leituras do Apocalipse. Quando lhe são contadas as experiências vividas, Vieira da Silva decide pintar "O Desastre". É a realidade de guerra. Não são momentos fáceis de viver. Para atenuar, vem a encomenda de um painel de azulejos para Escola Agrícola do Distrito Federal, Rio de Janeiro. "Quilómetro 44" é o titulo.
Entretanto, Ardenquin, pintor uruguaio, envia fotografias de telas de Vieira da Silva ao seu amigo e também pintor - Torres Garcia. O artigo que este escreve na revista Alfar é de tal forma favorável que Vieira da Silva sente um novo ânimo.
Em 1945 a guerra acaba. Ficará ainda no Brasil algum tempo. Dois anos mais tarde o próprio governador de Minas Gerais convida o casal a expôr em Belo Horizonte. Enquanto isso, Jeanne Bucher organiza em Nova York a primeira exposição individual de Vieira da Silva
É agora tempo de regressar a França. Arpad irá mais tarde pois tem ainda o curso para terminar.
O FIM DE UM CAMINHO PERCORRIDO
Vieira da Silva é cada vez mais reconhecida. O estado francês sabe a apreciar o seu mérito. Pela primeira vez adquire uma obra sua. Irá fazê-lo mais vezes.
As exposições individuais sucedem-se - Londres, Nova York, Basileia, Lille, Genebra. Ao mesmo tempo recebe prémios pelas suas obras - S. Paulo, Caracas. É reconhecida internacionalmente. Bem o dissera Vieira da Silva quando fez o pedido de nacionalidade a Portugal... Agora é demasiado tarde. Em 1956 é naturalizada francesa, o próprio Estado francês o decretou.
É tempo agora de possuir melhores condições para poder fazer o seu trabalho. Adquire um terreno na Rue de l’Abbé Carton onde o arquitecto Johannet lhe projecta uma casa em que terá o seu próprio atelier. Tudo terá mais espaço.
No ano seguinte a sua mãe vem viver para Paris. Até ao ano da sua morte, em 1964, não terá outra residência.
O Estado francês atribui agora a Vieira da Silva o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras; em 1963 será a vez do grau de Comendador.
Já não é só à pintura que Vieira da Silva se dedica. A tapeçaria e o vitral terão também a sua atenção. Em 1965, é-lhe feita a encomenda de 8 vitrais para a Igreja de Saint Jacques, nos quais irá trabalhar durante algum tempo. Entretanto, vão-se sucedendo as retrospectiva sobre a pintora em várias cidades. Entre elas, a de Lisboa, que estará a cargo da Fundação Gulbenkian.
Em 1974, Portugal conhece finalmente o fim de um regime que não favorecia propriamente os artistas. É a revolução dos cravos. Vieira da Silva não fica indiferente aos acontecimentos que ocorrem no país onde nasceu. Faz dois cartazes sobre a revolução, que mais uma vez a Função Gulbenkian se encarregará de editar.
O trabalho da pintora é cada vez mais importante. Muitos são aqueles que a admiram. Chegou agora a vez de fazer uma encomenda para Portugal.
Em 1983 aceita o convite para realizar a decoração da nova estação do Metro de Lisboa - Cidade Universitária.
Arpad Szenes não assistirá à inauguração. Nos princípios de 1985 morre. A estação só será inaugurada 3 anos mais tarde.
A perda do companheiro de tantos anos afecta naturalmente a sua pintura. A cor altera-se, é outra forma de luminosidade. É no ano seguinte que pinta "O fim do mundo"
Vieira da Silva tem ainda tempo para ver a Fundação com o seu nome e do seu marido ser criada em Lisboa. No mesmo ano em que é operada ao coração -1990.
No ano seguinte o Estado francês demonstra mais uma vez o apreço em que a tem - é-lhe atribuído o grau de Oficial da Legião de Honra.
Apesar de tudo, Vieira da Silva continua a pintar. Sabe que o outro lado não estará muito longe. Ainda em 1992 pinta uma sucessão de têmperas, com o título "Luta com um anjo". É o prenúncio do fim. Vieira da Silva não é dada a grandes místicas, mas há sempre interrogações que se colocam:
Às vezes, pelo caminho da arte, experimento súbitas, mas fugazes iluminações e então sinto por momentos uma confiança total, que está além da razão. Algumas pessoas entendidas que estudaram essas questões dizem-me que a mística explica tudo. Então é preciso dizer que não sou suficientemente mística. E continuo a acreditar que só a morte me dará a explicação que não consigo encontrar.
A 6 de Março de 1992, Vieira da Silva morre em Paris.
Partiu ao encontro de uma explicação. Será que a terá encontrado?
http://www.fasvs.pt/toppage1.htm